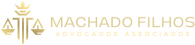INTRODUÇÃO
A sociedade moderna, tem de maneira crescente, alcançar a democracia, se preocupando em estimular os cidadãos a participar das decisões envolvendo o interesse do Estado.
Como ponto de partida para o desenvolvimento deste estudo, analisam-se as formas de Democracia Representativa e Democracia Participativa, e também, a relação entre a Democracia Participativa e o direito ao meio ambiente, sobretudo no que se refere à obrigação compartilhada da coletividade e do Poder Público. No entanto, a sociedade necessitara de um novo conceito de cidadania, a qual denomina-se cidadania ambiental.
Descrevendo a situação da comunidade brasileira de maneira simplista, temos um país onde tudo falta: educação, saúde, habitação, justiça. A luta entre o trabalho e o capital é percebida de maneira supérflua e, na maioria dos casos, é deixado de lado por forca da necessidade de sobrevivência. Esse embaraço desencadeia todo o processo de má formação das estruturas sociais, dificultando a formação de uma cidadania direcionada a uma área, como o Direito Ambiental.
Percebemos que no Meio Ambiente Urbano, essa exigência de cidadania, seria fundamental pelo espaço alterado pelo ser humano, seja pelo crescimento desordenado das grandes cidades brasileira, seja pela exclusão social já instaladas nas cidades.
Dentro dessa perspectiva, a Constituição Federal de 1988 reserva um capítulo específico para tratar da Política Urbana, a qual, tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes.
Todavia, esse capítulo constitucional foi apenas recentemente regulamentado mediante a promulgação da Lei Federal 10.257/2001, a qual foi denominada de Estatuto da Cidade, que é tida, como uma norma democrática, porém, de eficácia, um tanto duvidosa.
Neste trabalho, buscaremos, portanto, realizar uma análise da democracia participativa no que se refere à implementação na gestão do meio ambiente urbano, tendo como objetivo expor e partilhar ideias, e que possam colaborar para a efetivação dessas normas.
O MEIO AMBIENTE E A CIDADANIA
- Questões Ambientais e o cidadão.
A legislação brasileira garante o direito do cidadão ao meio ambiente sadio. O meio ambiente é um bem público de uso comum. Segundo o Artigo 225 da Constituição Brasileira:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade da vida, impondo-se ao Poder Publico e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito assegurado pela Constituição Federal, que definiu meio ambiente como bem público de uso comum do povo, isto é, não pode ser objeto de apropriação privada ou estatal contraria ao interesse público. A utilização dos bens ambientais pelo Estado ou pelas empresas privadas não pode impedir que a coletividade use e desfrute desses bens.
Segundo Liszt Vieira e Celso Bredariol, “A constituição foi ainda mais longe ao impor Poder Público e à coletividade o dever de defender o meio ambiente. Insto significa que se o governo por acaso cruza os braços e faz vista grossa à degradação ambiental, os cidadãos e suas associações têm meios legais de exigir a proteção ambiental.
É uma visão de que a legislação ambiental nem sempre é cumprida, as empresas e o próprio governo são muitas vezes os primeiros a violar a lei ambiental, invadindo o espaço público para defender interesses econômicos privados. A luta pela defesa dos direitos ambientais é, assim, uma luta para garantir o caráter público do meio ambiente.
As nossas Constituições anteriores, referente ao meio ambiente, diferentemente da atual que destinou um capítulo para sua proteção, destaca Edis Milare, essa previsão atual é um marco histórico de inegável valor, dado que as Constituições que precederam a de 1988 jamais se preocuparam da proteção do meio ambiente de forma específica e global. Nelas sequer uma vez foi empregada a expressão “meio ambiente”, a revelar total despreocupação com o próprio espaço em que vivemos.”
adotou-se, portanto, a tendência contemporânea de preocupação com os interesses difusos, e em especial com o meio ambiente, nos termos da Declaração sobre o Ambiente Humano, realizada na Conferência da Nações Unidas em Estocolmo, Suécia, em junho de 1972, em que consagrou-se solenemente:
“O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequada, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras. A esse respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o `apartheid`, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira permanecem condenadas e devem ser eliminadas. Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a flora, e a fauna e, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais, devem ser preservados em benefício das gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso planejamento ou administração adequados. Deve ser mantida e, sempre que possível, restaurada ou melhorada a capacidade da Terra de produzir recursos renováveis vitais. O homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar judiciosamente o patrimônio representado pela flora e fauna silvestres, bem assim o seu `habitat`, que se encontram atualmente em grave perigo, por uma combinação de fatores adversos. Em consequência, ao planificar o desenvolvimento econômico, deve ser atribuída importância à conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres.”
Dessa forma, consagra-se a proteção administrativa, legislativa e judicial aos interesses difusos. Segundo Mauro Cappelletti e Bryant Garth, “são interesses fragmentados ou coletivos, tais como o direito ao ambiente saudável, ou à proteção do consumidor. O problema básico que eles apresentam – a razão de sua natureza difusa – é que ninguém tem o direito a corrigir a lesão a um interesse coletivo, ou o prêmio para qualquer individuo buscar correção é pequeno demais para induzi-lo a tentar uma ação.”
Para possibilitar a ampla proteção, a Constituição Federal previu diversas regras, divisíveis em quatro grandes grupos:
. regra de garantia: qualquer cidadão é parte legitima para a propositura da ação popular, visando anulação de ato lesivo ao meio ambiente (CF, art. 5 , LXXIII)/
. regras de competência: a Constituição Federal determina ser de competência administrativa comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (CF, art.23) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos (inciso III), bem como proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (inciso VI), preservar as florestas, a fauna e a flora (inciso VII). Além disso, existe a previsão de competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal (CF, art.24) para proteção das florestas, caca, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (inciso VI), proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (inciso VIII). Igualmente, o Ministério Público tem como função institucional promover o inquérito civil e a ação civil pública, inclusive para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, III).
. regras gerais: a Constituição estabelece difusamente diversas regras relacionadas à preservação do meio ambiente (CF, arts 170, VI, 173, 5, 174, 3, 186, II , 200, VIII, 216, V, 231, 1 )
. regras especificas: encontram-se no capítulo da Constituição Federal destinado ao meio ambiente.
Tais regras consagram constitucionalmente o direito a um meio ambiente saudável, equilibrado e integro, constituindo sua proteção, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
Para Liszt Vieira e Celso Bredariol, “O direito do cidadão é inseparável da luta pelos seus direitos. O cidadão é o indivíduo que luta pelo reconhecimento de seus direitos, para fazer valer esses direitos quando eles não são respeitados. É necessário ter consciência do direito de cada um e de todos ao meio ambiente sadio. É preciso utilizar os instrumentos que a lei oferece ao cidadão e suas associações para fazer cumprir a lei e proteger o meio ambiente.”
Ainda segundo os autores, “Para fazer valer o nosso direito ao meio ambiente, precisamos conhecer um pouco de Ecologia e de política ambiental, vista não apenas como política de governo, mas como parte das políticas públicas voltadas para o interesse da maioria da sociedade. E depois, ainda, conhecer as entidades e movimentos que se organizaram para defender o meio ambiente.”
A ÉTICA AMBIENTAL
Nos últimos anos, o Direito e a questão ambiental, defrontaram-se de maneira explicita. A realidade requereu e impôs novas normas de conduta aos indivíduos e à sociedade, assim explicamos o surgimento do Direito Ambiental.
Atualmente, é fundamental entre as pessoas, o discernimento da preservação e restabelecimento do equilíbrio ecológico, sendo uma questão de vida ou morte. Os riscos globais, a extinção de espécies e vegetais, seja e; a decorrente de causas naturais ou de ações degradadoras, assim como a satisfação de novas necessidades em termos de qualidade de vida, deixam claro que o fenômeno biológico e suas manifestações sobre o planeta estão perigosamente alterados.
O estudo do “meio ambiente” envolve o estudo da relação entre os seres vivos e os componentes naturais que existem na Terra.
A ecologia, ramo razoavelmente recente da biologia, desenvolveu-se a partir da constatação da importância do estudo desse inter-relacionamento.
No início, porém, o ser humano não era estudado em sua relação com o ambiente. Prevalecia o estudo chamado de autoecológico, ou seja, que não incluía a espécie humana, isolando-a da natureza.
Todavia, logo foi evidenciado a grande falha desse tipo de visão.
Conforme Leonardo Boff, “a ecologia é um saber das relações, interconexões, interdependências e intercâmbios de tudo em todos os pontos e em todos os momentos. Nessa perspectiva, a ecologia não pode ser definida em si mesma, fora de suas implicações com outros saberes. Ela não é um saber de objetivos de conhecimento, mas de relações entre os objetos de conhecimento. Ela é um saber de saberes, entre si relacionados.”
É evidente, a precariedade da visão antropocêntrica ou autoecológica de mundo. A relação do ser humano com a natureza é mais profunda do que se imaginava, sobretudo porque a espécie humana vem tomando consciência de que poderá extinguir várias formas de vida do planeta, inclusive a humana.
Segundo Fritjof Capra, “as últimas duas décadas de nosso século vem registrando um estado de profunda crise mundial. É uma crise complexa, multidimensional, cujas facetas afetam todos os aspectos de nossa vida – a saúde e o modo de vida, a qualidade do meio ambiente e das relações sociais, da economia, tecnologia e política. É uma crise de dimensões intelectuais, morais e espirituais; uma crise de escala e premência sem precedentes em toda a história da humanidade. Pela primeira vez, temos que nos defrontar com a real ameaça de extinção da raça humana e de toda a vida no planeta”.
Sendo assim, é necessária uma mudança de paradigma, de comportamento, uma mudança ética.
Leonardo Boff nos conscientiza de um dado alarmante: “entre 1500 e 1850 foi presumivelmente eliminada uma espécie a cada dez anos. Entre 1850 e 1950, uma espécie por ano. A partir de 1990, está desaparecendo uma espécie por dia. A seguir este ritmo, nos próximos anos desaparecera uma espécie por hora”.
Entretanto, temos que ter a consciência sobre o atual estágio da vida no planeta Terra e da necessidade de refletirmos sobre nossas ações e responsabilidades para com o mundo natural.
A visão antropocêntrica coloca o ser humano como o centro e os recursos naturais a serviço de suas necessidades. Trata-se do pensamento ainda dominante no mundo jurídico. A natureza, composta por bens, é o objeto das relações jurídicas.
Essa visão segundo Celso Antônio Pacheco Fiorillo e Marcelo Abelha Rodrigues, permite chegar à conclusão, por exemplo, que a tipificação penal da conduta de maus tratos a animais não tem por objetivo tutelar o animal em si. O ser humano é o tutelado, no sentido de não ser obrigado a presenciar atos de crueldade.
Para os autores, “quem se protege com esse dispositivo é o homem e não o animal. É, portanto, a saúde psíquica do homem que não permite e nem consegue ver um animal sofrendo de práticas cruéis. É a cultura humana que muito se identifica com os animais, que repugna atos cruéis (…) A insensível verdade é que a tutela da crueldade liga-se, por razoes obvias, ao sentimento, que, verdadeiramente, é o sujeito de direitos…”.
A visão antropocêntrica sempre predominou na cultura ocidental, tendo em vista a grande influência do cristianismo em nossa cultura.
Sobre essa visão Peter Singer: “As atitudes ocidentais ante a natureza são uma mistura daquelas defendidas pelos hebreus, como encontramos nos primeiros livros da Bíblia, e pela filosofia da Grécia antiga, principalmente a de Aristóteles. Ao contrário de outras tradições da Antiguidade, como, por exemplo, a da Índia, as tradições hebraicas e gregas fizeram do homem o centro do universo moral; na verdade, não apenas o centro, mas, quase sempre, a totalidade das características moralmente significativas deste mundo”.
Vários autores concordam com Peter Singer, no sentido de que a ética antropocêntrica decorre da influência do cristianismo na cultura ocidental.
Na opinião de Mauro Grun, “A ética antropocêntrica está intimamente associada ao surgimento e à consolidação daquilo que hoje chamamos paradigma mecanicista. Pediríamos dizer, sem exagero nenhum, que a ética antropocêntrica é como se fosse a consciência do mecanicismo. Tal ética se afirma em consonância com a virada epistemológica caracterizada pelo abandono da concepção organismica da natureza em favor de uma concepção mecanicista. A ideia aristotélica de natureza como algo animado e vivo, na qual as espécies procuram realizar seus fins naturais, é substituída pela ideia de uma natureza sem vida e mecânica. A natureza de cores, tamanhos, sons, cheiros e toques é substituída por um mundo “sem qualidades”. Um mundo que evita a associação com a sensibilidade”.
A cultura ocidental, portanto, nos trouxe a convicção de que o homem tem a natureza a seu dispor, como algo que existe para ser explorado e para satisfazer as necessidades do ser humano.
Segundo Peter Singer: “Hoje, os cristãos debatem o significado dessa concessão de domínio, e os que defendem a preservação do meio ambiente afirmam que ela não deve ser vista como uma licença para fazermos tudo o que quisermos com as outras coisas vivas, mas, sim, como uma orientação para cuidarmos delas em nome de Deus e sermos responsáveis, perante o Criador, pelo modo como as tratarmos”.
Sobretudo pela constatação de que o ser humano tem sofrido consequências diretas e desastrosas pela exploração indevida dos recursos naturais, é comum falar-se em verdadeira crise e na necessidade de serem estabelecidos limites de crescimento.
Leonardo Boff afirma que “crise” significa a quebra de uma concepção de mundo: “O que na consciência coletiva era evidente, agora é posto em discussão. Qual era a concepção de mundo indiscutível? Que tudo deve girar ao redor da ideia de progresso. E que este progresso se move entre dois infinitos, o infinito dos recursos da Terra e o infinito do futuro… Os dois infinitos são ilusórios. A consciência da crise reconhece, os recursos têm limites, pois nem todos são renováveis, o crescimento indefinido para o futuro e impossível, porque não podemos universalizar o modelo de crescimento para todos e para sempre”.
Uma perspectiva oposta a antropocentrista e a perspectiva biocentrista, também chamada de “ecologia profunda” (Deep Ecology).
A visão biocentrista procura reconhecer na natureza um valor em si, um valor intrínseco que merece proteção independentemente do ser humano. A natureza não existe apenas para servir a espécie humana.
Relevantes os ensinamentos de Peter Singer sobre o pensamento ecológico “profundo”: “O pensamento ecológico superficial estaria circunscrito à estrutura moral tradicional; seus partidários estariam ansiosos por evitar a poluição da água para que pudéssemos beber uma água mais pura, e, na base do seu empenho em preservar a natureza, estaria a possibilidade de as pessoas continuarem a desfrutar dos seus prazeres. Por outro lado, os ecologistas profundos desejariam preservar a integridade da biosfera pela necessidade dessa preservação, ou seja, independentemente dos possíveis benefícios que o fato de preservá-la pudesse trazer para os seres humanos”.
Baseando-se no trabalho de filósofos norte-americanos envolvidos com o movimento da ecologia profunda, Peter Singer cita os princípios da ecologia profunda:
- O bem-estar e o florescimento da Vida humana e não-humana na Terra têm valor em si mesmos (sinônimos: valor intrínseco, inerente). Esses valores são independentes da utilidade do mundo não-humano para finalidades humanas.
- A riqueza e a diversidade das formas de vida contribuem para a concretização desses valores, e também são valores em si mesmas.
- Os seres humanos não têm o direito de reduzir essa riqueza e diversidade, a não ser para a satisfação de necessidade vitais.
O pensamento da Deep Ecology, como se vê, também é extremado e leva à necessidade de reconhecer o valor intrínseco à natureza. Há inegáveis reflexos na ordem jurídica, principalmente porque haveria necessidade de se repensar a estrutura da relação jurídica tradicional, que vê o ser humano, individualmente ou em sociedade, como o único sujeito de direitos.
Trata-se, portanto, de uma visão que se opõe, totalmente, à visão antropocêntrica.
O pensamento ecológico profundo tem o grande mérito de permitir um amplo questionamento da visão antropocêntrica que há muito tempo predomina na cultura ocidental e, é claro, na cultura jurídica.
Para Paulo de Bessa Antunes, por exemplo, fala em ruptura da visão antropocêntrica: “Provavelmente a principal ruptura que o Direito Ambiental causa na ordem jurídica tradicional seja com o antropocentrismo. Com efeito, toda doutrina jurídica tem por base o sujeito de direito. Com o Direito Ambiental não é assim que acontece. As normas de Direito Ambiental, nacionais e internacionais, cada vez mais, vêm reconhecendo direitos próprios da natureza, independentemente do valor que esta possa ter para o ser humano. A Organização das Nações Unidas, através da resolução nr. 37/7, de 28/10/82, proclamada pela Assembleia Geral, afirmou que: “Toda forma de vida é única e merece ser respeitada, qualquer que seja a sua utilidade para o homem, e, com a finalidade de reconhecer aos outros organismos vivos este direito, o homem deve se guiar por um código moral de ação”.
Não é totalmente absurda uma interpretação biocêntrica da ordem jurídica. Por exemplo, a Constituição Federal de 1988 tutela o direito à vida, sem especificar. Por isso, não é tutelada apenas a vida humana. Qualquer forma de vida merece proteção, não sendo a vida humana superior às demais.
Para Jose Rubens Morato Leite, por exemplo, afirma que “não é possível conceituar o meio ambiente fora de uma visão de cunho antropocêntrica, pois sua proteção jurídica depende de uma ação humana”.
Todavia, o próprio autor chama a atenção para a superação da visão antropocentrista clássica, em que o ser humano pode explorar livremente os recursos naturais”.
Conforme afirma José Rubens Morato Leite, “é obvio que a visão antropocêntrica, centrada na posição em que a visão antropocêntrica, centrada na posição em que o homem tratava o ar puro como res nullius, está superada, e hoje este bem é considerado res omnium, e assim deve ser entendido”.
Ainda segundo o autor, algumas preocupações e valores devem “guiar a conduta antropocêntrica em relação ao meio ambiente:
- o ser humano pertence a um todo maior, que é complexo, articulado e interdependente;
- a natureza é finita e pode ser degradada pela utilização perdulária de seus recursos naturais;
- o ser humano não domina a natureza, mas tem de buscar caminhos para uma convivência pacífica, entre ela e sua produção, sob pena de extermínio da espécie humana;
- a luta pela convivência harmônica com o meio ambiente não é somente responsabilidade de alguns grupos preservacionistas, mas missão política, ética, e jurídica de todos os cidadãos que tenham consciência da destruição que o ser humano está realizando, em nome da produtividade e do progresso”.
Nesses termos, entendemos que está superada a visão antropocêntrica clássica e caminhamos por reconhecer um biocentrismo, não no sentido extremado da expressão.
Assim, é inconcebível entender que um animal não é objeto de tutela pela ordem jurídica. No crime de maus tratos a animais, certamente o animal é sujeito de direito.
Não se propõe, porém, uma defesa ingênua do meio ambiente, que desconsidere os aspectos antropocêntricos envolvidos na proteção ambiental.
Por isso, deve prevalecer a visão holística, segundo Leonardo Boff : “A singularidade do saber ecológico consiste na transversalidade, quer dizer, no relacionar pelos lados (comunidade ecológica), para frente (futuro), para trás (passado) e para dentro (complexidade) todas as experiências e todas as formas de compreensão como complementares e úteis no nosso conhecimento do universo, nossa funcionalidade dentro dele e na solidariedade cósmica que nos une a todos. Deste procedimento resulta o holismo (hólos em grego significa totalidade). Ele não significa a soma dos saberes ou das várias perspectiva de análise. Isso seria uma quantidade. Ele traduz a captação orgânica e abertura da realidade e do saber sobre esta totalidade. Isso representa uma qualidade nova”.
A efetivação de um desenvolvimento sustentável, contudo, depende de uma nova ética ambiental, com ampla reflexão sobre os valores que norteiam a relação ser humano x meio ambiente.
Para Mauro Grun: “Assim, vejo na educação ambiental basicamente uma discussão, tematização e reapropriação de certos valores; valores estes que muitas vezes não estão no nível mais imediato da consciência, mas se encontram profundamente reprimidos ou recalcados através de um longo processo histórico. É por esta razão que muitos autores têm relacionado a crise ecológica a uma crise da cultura ocidental. Nesse sentido, penso que seria parte da tarefa de uma educação ambiental proceder a uma tematização a respeito dos valores que regem o agir humano em sua relação com a natureza. Seria também oportuno estudar o processo de afirmação e legitimação de tais valores. É no processo de afirmação desses valores que vamos encontrar a supressão de um outro conjunto de valores que teve que ser negado, servindo, assim, de referência sobre a qual iria se legitimar aquele que seria o conjunto de ideias predominante até os dias de hoje – o racionalismo moderno. Talvez mais do que criar “novos valores”, a educação ambiental deveria se preocupar em resgatar alguns valores já existentes, mas que foram recalcados ou reprimidos pela tradição dominante do racionalismo cartesiano. Talvez uma das questões primordiais para a edificação do campo epistêmico da educação ambiental seja remontarmos ao passado com os olhos do presente, buscando o momento em que começa a emergir a afirmar-se aquele conjunto de valores que, já na própria lógica interna de sua elaboração, continha, embrionariamente, as consequências desastrosas para o meio ambiente”.
De fato, a verdadeira ameaça ao ambiente decorre da conduta do ser humano em relação ao ambiente, tratando-se, antes de tudo, de uma questão ética.
Para Leonardo Boff: “O modelo de sociedade e o sentido de vida que os seres humanos projetaram para si, pelo menos nos últimos 400 anos, estão e crise. E o modelo em termos da lógica do quotidiano era e continua sendo: o importante é acumular grande número de meios de vida, de riqueza material, de bens e serviços a fim de poder desfrutar a curta passagem por este planeta. Para realizar este propósito, nos ajudam a ciência, que conhece os mecanismos da terra, e a técnica, que faz intervenções nela para benefício humano”.m crise.
- O ambiente na legislação brasileira
A devastação ambiental não é marca exclusiva de nossos dias. Apenas a percepção jurídica deste fenômeno, até como consequência de um bem jurídico novo denominado “meio ambiente” é de explicitação recente. De fato, a proteção do ambiente, desde os mais remotos tempos, vem sendo objeto de preocupação, em maior ou menor escala, de todos os povos.
Nessa abordagem, enfatizaremos apenas quatro marcos mais importantes dessa postura recente do ordenamento jurídico segundo Edis Milare, na busca de respostas ao clamor social pela tutela do ambiente:
“O primeiro é o da edição da Lei 6.938, de 31.08.1981, que, entre outros tantos méritos, teve o de trazer para o mundo do Direito o conceito de meio ambiente, como objeto especifico de proteção em seus múltiplos aspectos, o de instituir um Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), apto a propiciar o planejamento de uma ação integrada de diversos órgãos governamentais através de uma política nacional para o setor e o de estabelecer, no art. 14, parágrafo 1. , a obrigação do poluidor de reparar os danos causados, de acordo com o princípio da responsabilidade objetiva (ou sem culpa) em ação movida pelo Ministério Público”.
“O segundo marco coincide com a edição da Lei 7.347, de 24.07.1985, que disciplinou a ação civil pública como instrumento processual específico para a defesa do ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, e que possibilitou que a agressão ambiental finalmente viesse a tornar-se um caso de justiça. Através dessa lei as associações civis ganharam força para provocar a atividade jurisdicional e, de mãos dadas com o Ministério Público, puderam em parte frear as inconsequências agressões ao ambiente. Aqui, para bem dar a dimensão real e importância efetiva do afrouxamento das regras de legitimação para agir, basta lembrar que países mais desenvolvidos da União Europeia e tão próximos de nossa tradição jurídica, como Alemanha, Franca, Bélgica, Portugal e Espanha, para citar alguns, ainda buscam, sem resultados concretos mais evidentes, um sistema de acesso coletivo à Justiça`.
“O terceiro marco pontifica em 1988, com a promulgação da nova Constituição brasileira, onde o progresso se fez notável, na medida em que a Magna Carta deu ao meio ambiente uma disciplina rica, dedicando à matéria um capitulo próprio em um dos textos mais avançados em todo o mundo. E na esteira da Constituição Federal vieram as Constituições Estaduais, que incorporaram também o tema ambiental, ampliando, aqui e ali, o já amplo tratamento pela Lei Maior, seguidas depois das Leis Orgânicas dos Municípios (verdadeiras Constituições locais), e de grande messe de diplomas, marcados todos por intensa preocupação ecológica”.
“O quarto é representado pela edição da Lei 9.605, de 12.02.1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Dita lei, conhecida como “Lei dos Crimes Ambientais”, representa significativo avanço na tutela do ambiente, por inaugurar uma sistematização das sanções administrativas e por tipificar organicamente os crimes ecológicos. O diploma também inova ao tornar realidade a promessa constitucional de se incluir a pessoa jurídica como sujeito ativo do crime ecológico, superando o clássico princípio societas delinquere non potest.”
Na perspectiva do autor, se, no plano mais amplo, a legislação ambiental brasileira é festejada, espanta verificar que na realidade, isto é, das atividades degradadoras, as normas ambientais não tenham sido capazes de alcançar os objetivos que justificam sua existência, o principal deles, a compatibilização entre o crescimento econômico e a preocupação com o meio ambiente.
Não nos cabe, aqui, fazer um balanço aprofundado das razoes da ineficiência da legislação ambiental brasileira. Podemos, contudo, dizer que ao lado de outras causas mais amplas, como a ausência de vontade política, a fragilidade da consciência ambiental e a inexistência de um aparelho implementador adequado, algumas de caráter estritamente legislativo, são facilmente identificáveis.
Não basta, que o Capítulo do meio ambiente na Constituição Federal seja o mais avançado do mundo, é preciso que a legislação tenha um instrumento normativo e operacional, apto a inserir as atribuições do Poder Público e o exercício da cidadania, num contexto moderno e dinâmico.
- Responsabilidade Civil e reparação do dano ecológico.
Aqui, buscaremos traçar um perfil, sobre os regimes de responsabilidade civil por dano ambiental, abordando principalmente, a sua fundamentação e suas influências no Meio Ambiente.
O Direito Ambiental, tem três esferas básicas: a preventiva, a reparatória e a repressiva. Sendo atenção direcionada à reparação do dano ambiental.
A reparação e a repressão ambientais representam atividade menos valiosa que a prevenção. Pois cuidam do dano já causado. A prevenção, tem a atenção voltada para momento anterior, o do mero risco.
A reparação ambiental, funciona através das normas de responsabilidade civil, que por sua vez funcionam como mecanismos de tutela e controle da propriedade.
A responsabilidade civil pressupõe prejuízo a terceiro, sendo pedido de reparação do dano, através da recomposição em forma de indenização.
O dano ambiental, ação típica da sociedade moderna, com seu estilo de civilização, se formou a partir da revolução industrial e modificou profundamente o relacionamento do ser humano com o mundo natural.
O dano ambiental se caracteriza pela pulverização de vítimas, afeta uma pluralidade de vítimas, mesmo quando alguns aspectos particulares do dano atingem individualmente certos sujeitos.
Em outro contexto, o dano ambiental é de difícil reparação. Daí que o papel da responsabilidade civil, especialmente quando se trata de mera indenização, é sempre insuficiente, ou seja, a prevenção é a melhor solução. Dessa forma, o dano ambiental é de difícil valoração, mesmo com o esforço reparatório, nem sempre será possível obtermos a totalidade do dano ambiental.
A Lei 6.938 81 dispõe que a Política Nacional do Meio Ambiente, visa a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados.
Assim, há duas formas principais de reparação do ano ambiental, a recuperação natural e a indenização em dinheiro. Não estão elas hierarquicamente em p é de igualdade.
A modalidade ideal e a primeira que deveria ser tentada, mesmo que mais onerosa, seria de reparação do dano ambiental, que é a reconstituição ou recuperação do meio ambiente agredido, de qualquer modo, em ambas hipóteses de reparação do dano ambiental, busca o legislador, a imposição de um custo ao poluidor, que, a um só tempo, cumpre dois objetivos principais: dar uma resposta econômica aos danos sofridos pela vítima (o indivíduo ou a sociedade) e a efetividade depende da certeza e rapidez da ação reparatória.
O dano ambiental é regido pelo sistema da responsabilidade objetiva, fundado no risco, que prescinde por completo da culpabilidade do agente, e, só exige para tornar efetiva a responsabilidade, a ocorrência do dano e a prova do vínculo causal com a atividade.
A reparação baseada na regra da culpa, é que o dever ressarcitório pela pratica de atos ilícitos decorre da culpa lato sensu, que pressupõe a aferição da vontade do autor, enquadrando-a nos parâmetros do dolo (consciência e vontade livre de praticar o ato) ou da culpa em sentido estrito (violação do dever de cuidado, atenção e diligencia com todos).
Já a reparação baseada na regra objetividade, coube à Lei 6.938 81, instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente, dar adequado tratamento à matéria, substituindo, o princípio da responsabilidade subjetiva, fundamentado na culpa, pelo da responsabilidade objetiva, fundamentada no risco da atividade. A vinculação da responsabilidade objetiva à teoria do risco integral, expressa a preocupação em estabelecer um sistema de responsabilidade, o mais rigoroso possível, ante o alarmante quadro de degradação que se assiste não só no Brasil, mas em todo mundo.
O princípio da responsabilidade objetiva é o da equidade, para que se imponha o dever de reparação do dano e não somente porque existe responsabilidade.
- Meios processuais para a defesa ambiental.
Será abordado neste item somente a ação popular e a ação civil pública, na sua acepção constitucional de defesa do meio ambiente.
A ação judicial pode ser intentada por qualquer cidadão. Dessa forma, é condição da ação, a prova de que o autor está de gozo de seus direitos políticos, isto é, que é eleitor. A Constituição Federal de 1988, dá um novo enfoque à ação popular, dizendo: “qualquer cidadão é parte legitima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.
A única dificuldade para a ação ser totalmente popular, é o cidadão ou cidadãos, pois, precisam contratar advogado para apresentar a petição inicial.
A ação regulada pela Lei 7.347, de 24.07.85, traz como características:
- . visa proteger o meio ambiente, o consumidor e os bens e interesses de valor artístico, estético, histórico, paisagístico e turístico. Interesse difusos e coletivos como os rotulou a Constituição Federal (art.129, III);
- . a proteção desses interesses e bens se faz através de três vias: cumprimento da obrigação de fazer, cumprimento da obrigação de não fazer e condenação em dinheiro.
- . a Ação Civil Pública consagrou uma instituição – o Ministério Público – valorizando seu papel de autor em prol dos interesses difusos e coletivos. O MP saiu do exclusivismo das funções de autor no campo criminal e da tarefa da lei na esfera civil, para exercer a defesa social.
- . inova, por fim, essa ação civil no sentido de criar um fundo em que os recursos não advêm do Poder Executivo, mas das condenações judiciais, visando à recomposição dos bens e interesses lesados. Não se trata nessa ação de ressarcir as vítimas pessoais da agressão ambiental, mas de recuperar ou tentar recompor os bens e interesses no seu aspecto específico.
Na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938 81), art. 14, parágrafo 1) constou que o Ministério Público da União e dos Estados tem legitimidade para propor ação civil por danos causados ao meio ambiente.
A precária implementação das leis ambientais no Brasil se deve, no dizer de Antônio Herman V. Benjamin, não a uma causa única, mas a um conjunto de fatores, entre os quais, e resumidamente, poderíamos apontar:
- a falta de consciência e educação dos cidadãos, que leva a considerar como “normais” as inconsequências e ilegais violações do ambiente. A exploração econômica predadora subtraíram da opinião corrente o sentido de meio ambiente como bem público, não importando que esta definição em termos legais seja recente, porquanto alertas da economia política e várias cosmovisões são anteriores às modernas formulações ambientalistas;
- a pouca credibilidade dos órgãos ambientais, muitos deles inseguros no caminho a seguir, alguns até a deriva e largados à própria sorte sem um mínimo compatível de recursos, principalmente humanos e técnicos, para cumprirem suas funções;
- o próprio Poder Judiciário padece dessa pouca credibilidade, pois é visto, correntemente, como inacessível, lento, caro e sem qualquer especialização para o trato da questão. O desempenho da administração da Justiça, está muito aquém de atender às expectativas e aos anseios sociais. A excessiva duração das demandas vulnera a garantia legal do acesso ao Judiciário. Desprestigia os tribunais, perpetua as frustrações e produz enormes prejuízos àqueles que protagonizam o combate judiciário.
- Desconsideração do meio ambiente como prioridade política efetiva e a aberrante repartição de recursos orçamentários. Sabe-se que a prioridade orçamentária é o termômetro da prioridade política e social: no entanto, apesar dos discursos políticos e de natureza social do meio ambiente, os orçamentos públicos não o contemplam em proporções essenciais, pois outros setores são privilegiados e, com frequência, sem qualquer preocupação ambiental;
- a inadequação do sistema fiscalizatório e de controle das agressões ambientais, nos quais, além do desaparelhamento das instituições, estão sempre presentes riscos e até – infelizmente! – ocorrências de corrupção e suborno;
- a superposição de funções dos órgãos públicos de controle e gestão, em razão da falta de clareza no critério da repartição de competência entre os diversos níveis e esferas de governo, sem querer omitir o conhecidíssimo espírito corporativo que inibe ou destrói as ações interdisciplinares e interinstitucionais;
- a concentração exagerada da implementação ambiental nas mãos do Estado, tido, muitas vezes, como o maior ou um dos maiores poluidores ou degradadores do meio ambiente. A consciência ecológica na Administração Pública, além de reduzida, é muito setorializada, e o Estado desconfia da prática de parcerias;
- o obsoletismo do sistema jurídico como um todo e a tecnicidade da legislação ambiental. Instrumentos legais de caráter técnico-normativo nem sempre são suficientes para subsidiar uma implementação objetiva e ágil, além de serem pouco susceptíveis às necessárias adaptações que a problemática ambiental impõe à prática cotidiana.
Ainda segundo o autor: “…não basta apenas um bom aparato legal se, paralelamente, não dispusermos de meios adequados e ações concretas de implementação. Os aparatos políticos, se por um lado não são montados para simplesmente justificar a posição ambiental de governos perante a opinião pública, por outro lado padecem de males endêmicos da Administração Pública. Somente uma ação consciente da comunidade, guiada pelas luzes dos interesses sociais e do Direito do Ambiente, poderá constituir um salutar impulso ao Poder Público. E não se poderá descartar a hipótese de a questão ambiental tornar-se tão aguda a ponto de pressionar uma verdadeira reforma do Estado, modernizando-o.”
O ESTATUTO DA CIDADE E A PARTICIPACÃO POPULAR
No dia 10 de julho de 2001 foi aprovada a Lei Federal número 10.257, chamada “Estatuto da Cidade”, que regulamenta o capítulo original sobre política urbana aprovado pela Constituição Federal de 1988. A importância da nova lei merece ser enfatizada, sobretudo porque o Estatuto da Cidade com certeza vai dar suporte jurídico ainda mais inequívoco à ação daqueles municípios que tem se empenhado no enfrentamento das graves questões urbanas, sociais e ambientais que tem diretamente afetado a vida da enorme parcela de brasileiros que vivem em cidades. Reconhecendo o papel fundamental dos municípios na formulação de diretrizes de planejamento urbano e na condução do processo de gestão das cidades, o Estatuto da Cidade não só consolidou o espaço da competência jurídica e da ação política municipal aberto pela Constituição de 1988, como também o ampliou sobremaneira.
A lei 10.257 / 2001, tem quatro dimensões fundamentais, quais sejam: consolida um novo marco conceitual jurídico-político para o Direito Urbanístico; regulamenta e cria novos instrumentos urbanísticos para a construção de uma ordem urbana socialmente justa e includente pelos municípios; aponta processos político-jurídicos para a gestão democrática das cidades; e propõe instrumentos jurídicos para a regularização fundiária dos assentamentos informais em áreas urbanas municipais.
O Estatuto da Cidade é um instrumento de cunho eminentemente democrático, o que faz em perfeita consonância com as disposições relativas às exigências da participação direta da população, como bem preconiza o art. 1. parágrafo único, da Constituição Federal- democracia participativa – bem como com as obrigações compartilhadas exigidas com relação à defesa do meio ambiente, como disposto no seu art. 225.
Além disso, no âmbito municipal, a Carta Magna impõe como preceito a cooperação das associações representativas no planejamento municipal (art. 29, XII), o que o Estatuto da Cidade estabelece.
De fato, o Estatuto da Cidade, já de início, revela a intenção de integrar a população na gestão do meio ambiente urbano, quando coloca dentre as suas diretrizes gerais o princípio da gestão democrática, que se efetiva por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano (art.2., II).
Na visão de Edésio Fernandes: “A devida utilização das possibilidades da nova lei depende fundamentalmente da compreensão de seu significado e alcance no contexto da ordem jurídica brasileira, sobretudo no que toca à nova concepção – proposta pela Constituição Federal e consolidada pelo Estatuto da Cidade – dada ao direito de propriedade imobiliária urbana, qual seja, o princípio constitucional da função social da propriedade e da cidade.
Ainda segundo o autor “Trata-se de princípio que vem sendo nominalmente repetido por todas as constituições brasileiras desde a de 1934, mas que somente na de 1988 encontrou uma fórmula consistente, que pode der assim sintetizada: o direito de propriedade imobiliária urbana é assegurado desde que cumprida sua função social, que por sua vez é aquela determinada pela legislação urbanística, sobretudo no contexto municipal.
Cabe aos municípios promover a materialização do paradigma da função social da propriedade e da cidade através da reforma da ordem jurídico-urbanístico municipal.
Contudo, segundo Grazia De Grazia: “Esta Emenda Popular foi responsável pela criação do capítulo urbano e contém um eixo fundamental que é a função social da propriedade e da cidade. Embora esta diretriz fundamental tenha sido submetida ao Plano Diretor, contrariando as demandas dos setores que encaminharam a Emenda Popular, continua tendo uma importância relevante e inovadora em termos de América Latina e talvez em termos de “Terceiro Mundo”.”
A Emenda Popular e todas as ações do Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU), criado nos anos posteriores, foram orientadas nos seguintes princípios fundamentais:
“Direito à Cidade e à Cidadania”, entendido como uma nova lógica que universalize o acesso aos equipamentos e serviços urbanos, a condições de vida urbana digna e ao usufruto de um espaço culturalmente rico e diversificado e, sobretudo, em uma dimensão política de participação ampla dos habitantes das cidades na condução de seus destinos.
“Gestão Democrática da Cidade”, entendida como forma de planejar, produzir, operar e governar as cidades submetidas ao controle e participação social, destacando-se como prioritária a participação popular.
“Função Social da Cidade e da Propriedade”, entendida como a prevalência do interesse comum sobre o direito individual de propriedade, o que implica no uso socialmente justo e ambientalmente equilibrado do espaço.”
Estes princípios estão baseados numa leitura das cidades, cujo padrão de produção, ocupação e gestão é marcado pela mercantilização do solo, da moradia, do transporte de massa e dos demais equipamentos do solo, da moradia, do transporte de massa e dos demais equipamentos e serviços urbanos. É um modo de ver e fazer a cidade no qual os homens estão distribuídos desigualmente no espaço, provocando assim uma subordinação dos direitos políticos, dos direitos individuais, da cidadania, aos modelos de uma racionalidade econômica. A distribuição dos equipamentos e serviços é, frequentemente, realizada conforme o lugar onde os critérios de rentabilidade e de retorno do capital investido são mais atendidos. Esse modelo, excludente, deu origem à imensa desigualdade existentes nas cidades e em todo país.
Os princípios da Reforma Urbana, ao contrário, querem enfatizar as seguintes concepções, elaboradas coletivamente, mas que necessitam de ser construídas ou tratadas de acordo com a realidade existente em cada cidade brasileira:
. as cidades são a expressão máxima da desigualdade, da segregação, da discriminação e da exclusão. São produzidas pelo confronto, pela luta e pela apropriação entre diversos agentes econômicos e sociais. Assim, são essas características reais que devem ser pensadas, analisadas na elaboração e implementação das legislações, normas e políticas urbanas;
. o Estado é obrigado a assegurar os direitos urbanos e o acesso igualitário aos bens e serviços, bem como o direito à cidade, por meio de instrumentos e mecanismos redistributivos;
. as cidades necessitam de uma regulação pública da produção privada, formal e informal, submetida ao controle social.
. da mesma forma que na propriedade rural, é necessário submeter o direito de propriedade à sua função social;
. o controle social e a participação da população organizada são condições básicas para a conquista de direitos, de novas políticas públicas que incorporem os excluídos e de novas referencias para as cidades. Por meio do exercício do controle social do Poder Público as organizações participam da gestão das cidades, daí o nome de gestão Democrática da Cidade;
. é necessário que as cidades sejam reconhecidas na sua totalidade e que se repense o planejamento a partir da negociação entre a população e os agentes que produzem e se apropriam desigualmente do espaço urbano;
. o fortalecimento social e político como condição básica para a construção de uma ética urbana, contraria à concepção de cidade submetida à lógica do mercado.
Princípios da política global do meio ambiente no Estatuto da Cidade:
O Estatuto da Cidade possui diretrizes amplas, extremamente úteis para direcionar os administradores públicos nesta nova fase de condução dos municípios brasileiros. Estas diretrizes estão no art. 2 da Lei, que exibe normas rígidas, com conceitos abertos que serão preenchidos à medida que os fatos conclamarem nova adequação, no desígnio de diminuir o atraso do Direito em relação aos fatos sociais.
. o princípio do desenvolvimento sustentável;
O uso dos recursos naturais deve ser racional, de forma a garanti-los às presentes e futuras gerações.
Seu fundamento pauta-se numa política ambiental menos radical, aplicada sem impedir o desenvolvimento econômico, sob uma gestão lógica dos recursos naturais, a serem utilizados de forma racional. Evita-se, assim, o perigo de seu esgotamento, e assegura às futuras gerações a possibilidade de participar dos benefícios de tal uso.
A Constituição Federal de 1988 consagra este princípio em dois momentos: no art. 225 “todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado… para as presentes e futuras gerações“ e no art. 170 “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:… VI- defesa do meio ambiente.
Quando o art. 225 menciona “equilíbrio” do meio ambiente, percebe-se que não se pretende impedir o aproveitamento da natureza, e sim mantê-la para proveito do próprio homem – centro principal da vida.
Os artigos 39, 40, 41 da Lei 10.257 2001 especificam este plano como o instrumento hábil para traçar as diretrizes gerais de um município. Nele devem estar contidas as exigências fundamentais de ordenação e expansão territorial, a fim de assegurar o atendimento das necessidades do cidadão quanto à qualidade de vida, à justiça social, e desenvolvimento das atividades econômicas.
. o princípio da prevenção e da precaução;
Para proteger o meio ambiente medidas de precaução devem ser largamente aplicadas pelos estados, segundo suas capacidades. Em caso de risco de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas visando prevenir a degradação do meio ambiente.
Desta definição decorrem os princípios da precaução e da prevenção, os quais partem da premissa de que os danos ambientais são quase partem da premissa de que os danos ambientais são quase sempre irreversíveis. Dificilmente um ecossistema degradado voltará a ser como era antes do evento danoso, isso sem falar nos altos custos a serem empregados na recuperação.
José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala utilizam o raciocínio de que o princípio da prevenção se dá em relação ao perigo concreto e, em se tratando do princípio da precaução, a prevenção é dirigida ao perigo abstrato: “O conteúdo cautelar do princípio da prevenção é dirigido pela ciência e pela detenção de informações certas e precisas sobre a periculosidade e o risco fornecido pela atividade ou comportamento que, assim, revela situação de maior verossimilhança do potencial lesivo que aquela controlada pelo princípio da precaução. O objetivo fundamental perseguido na atividade de aplicação do princípio da prevenção é, fundamentalmente, a proibição da repetição da atividade que já se sabe perigosa.
Ainda comenta os autores: “A aplicação do princípio da precaução é realizada apenas na hipótese de risco potencial, ainda que este risco não tenha sido integralmente demonstrado, não possa ser qualificado em sua amplitude ou em seus efeitos, devido à insuficiência ou ao caráter inconclusivo dos dados científicos disponíveis na avaliação dos riscos (etapa posterior à identificação dos efeitos originários do comportamento).”
Assim, para eles, a prevenção se justifica pelo perigo potencial, e a precaução na ameaça de dano não conhecida integralmente na avaliação cientifica, seja qualificada pela seriedade e irreversibilidade.
. o princípio da participação
A participação das pessoas e das organizações não governamentais nos procedimentos de decisões administrativas e nas ações judiciais ambientais deve ser facilitada e encorajada.
As principais menções a este princípio estão na Conferência Mundial do Meio Ambiente em Estocolmo, 1972 e no Rio de Janeiro, 1992; na Constituição Federal, de 1988, 225, caput, e inciso VI, e Lei número 6.938 81, art. 6, parágrafo 3 e art. 10.
A Carta Constitucional convoca a todos (pessoas físicas ou jurídicas) para defender e tutelar o meio ambiente. Quando se fala em participar, presume-se que “o agir” será um conjunto, envolvendo cidadãos, empresas, organizações não-governamentais e administração pública, todos engajados para um resultado mais favorável ao equilíbrio ambiental.
Fundamental expor que este princípio engloba a informação e a educação ambiental, essencial para maior conscientização da importância da participação.
A ÉTICA AMBIENTAL
Nos últimos anos, o Direito e a questão ambiental defrontaram-se de maneira explícita. A realidade requereu e impôs novas normas de conduta aos indivíduos e à sociedade: assim explicamos o surgimento do Direito Ambiental.
Atualmente, é fundamental entre as pessoas, o discernimento da preservação e restabelecimento do equilíbrio ecológico, sendo uma questão de vida ou morte. Os riscos globais, a extinção de espécies animais e vegetais, seja ela decorrente de causas naturais ou de ações degradadoras, assim como a satisfação de novas necessidades em termos de qualidade de vida, deixam claro que o fenômeno biológico e suas manifestações sobre o planeta estão perigosamente alterados.
O homem não sobrevive socialmente sem a sua ética, sendo ela o tratado de costumes que pelo seu caráter, assume o exercício dos bons hábitos e comportamentos morais, quer na vida individual, quer na vida social.
É aí que entram a ética da vida, a ética do Meio Ambiente, que são impostas aos seres humanos por causar o risco ambiental, e considerar-se autodenominados superiores pela sua razão, deixam-se conduzir facilmente por instintos pervertidos. Seu pensamento ético, lúcido e ordenado se desfigura em comportamentos antiéticos, predadores e mortíferos. É preciso que vida se imponha perante a destruição ambiental, pois o duelo não é de meros indivíduos, trava-se entre a espécie humana e a vida planetária.
A falta de conscientização ética do homem para a preservação do Meio Ambiente, é uma grave pendência a resolver, por isto, o planeta Terra requer os cuidados de uma ética apropriada, que é a Ética da Vida, que não se limita à consideração parcial, e sim, total.
Portanto, o desenvolvimento de uma Ética Ambiental nos levara para mudanças de estilo de vida e de civilização, a partir de atos corriqueiros do dia a dia, como passear de automóvel, do destino ao lixo e às embalagens, uso água e energia elétrica. Sem dúvida, muitas outras formas de vida e de consumo serão naturalmente colocadas em questão, atingindo a economia global.
A questão ambiental, evidência que a crise ecológica não se restringe às condições naturais do Planeta: é uma crise de civilização e da própria sociedade, porque está associada a uma crise de valores, e aponta para a necessidade de novos tipos de relações humanas. Trata-se de elaborar uma ética socioambiental que se ocupe de uma ecologia social.
Assim como o Direito Ambiental necessita da ética para adquirir o seu respeito, também enquadra na ética ambiental os princípios fundamentais para a atuação da política social e da coletividade, são eles:
– Princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana: o art. 225, Caput, constitui um novo direito fundamental da pessoa humana, direcionado ao desfrute de condições de vida adequada em um ambiente saudável.
– Princípio da natureza pública da proteção ambiental: este princípio decorre da previsão legal que considera o meio ambiente como um valor a ser necessariamente assegurado e protegido para uso de todos.
– Princípio do controle do poluidor pelo Poder Público: resulta das intervenções necessárias à manutenção, preservação e restaurações dos recursos ambientais com utilização racional e disponibilidade permanente.
– Princípio da consideração da variável ambiental no processo decisório de políticas de desenvolvimento: a elementar obrigação de se levar em conta a variável ambiental em qualquer ação ou decisão – pública ou privada – que possa causar algum impacto negativo sobre o meio ambiente.
– Princípio da participação comunitária: expressa a ideia de que para a resolução dos problemas do ambiente deve ser dada especial ênfase à cooperação entre o Estado e a sociedade, através da participação dos diferentes grupos sociais na formulação e na execução da política ambiental.
– Princípio do poluidor-pagador (polluter pays principli): visa a imputar ao poluidor o custo social da poluição por ele gerada, sendo um mecanismo de responsabilidade por dano ecológico abrangente dos efeitos da poluição não somente sobre bens e pessoas, mas sobre toda a natureza.
– Princípio da prevenção: destaca a prioridade de que deve ser dada às medidas que evitem o nascimento de atentados ao ambiente, de modo a reduzir ou eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar a sua qualidade.
– Princípio da função socioambiental da propriedade: a propriedade não é aquele direito que se possa ter na condição de ilimitado e inatingível. Daí o acerto de maneira veemente, que o uso da propriedade será condicionada ao bem estar social.
– Princípio do direito ao desenvolvimento sustentável: aborda a necessidade de um duplo ordenamento, com profundas raízes no Direito Natural e no Direito Positivo: o direito do ser humano de desenvolver-se e realizar as suas potencialidades quer individual, quer socialmente, e o direito de assegurar às gerações futuras as mesmas condições favoráveis. Neste princípio, talvez mais do que em outros, surge tão evidente a reciprocidade entre direito e dever, sendo o desenvolver-se e usufruir de um Planeta plenamente habitável, ou seja, Direito e dever como contrapartidas inquestionáveis.
– Princípio da cooperação entre os povos: este princípio estabelece as relações internacionais da República Federativa do Brasil “a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade”.
O AMBIENTE NA LEGISLACAO BRASILEIRA
A devastação ambiental não é marca exclusiva de nossos dias. Apenas a percepção jurídica deste fenômeno – até como consequência de um bem jurídico novo denominado “meio ambiente” – é de explicitação recente. De fato, a proteção do ambiente, desde os mais remotos tempos, vem sendo objeto de preocupação, em maior ou menor escala, de todos os povos.
Nessa abordagem, tentar-se-á enfatizar apenas dos quatro marcos mais importantes dessa postura recente do ordenamento jurídico, na busca de respostas ao clamor social pela tutela do ambiente.
O primeiro é o da edição da Lei 6.938, de 31.08.1981, que entre outros tantos méritos, teve de prazer para o mundo do Direito o conceito de meio ambiente, como objeto específico de proteção em seus múltiplos aspectos, o de instituir um Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), apto a propiciar o planejamento de uma ação integrada de diversos órgãos governamentais, através de uma política nacional para o setor e o de estabelecer, no artigo 14º, parágrafo § 1º, a obrigação do poluidor de reparar os danos causados, de acordo com o princípio da responsabilidade ( ou sem culpa) em ação movida pelo Ministério Público.
O segundo marco coincide com a edição da Lei 7.347, de 24.07.1985, que disciplinou a ação civil pública como instrumento processual específico para a defesa do ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, e que possibilitou que a agressão ambiental finalmente viesse a tornar-se um caso de justiça. Através dessa lei as associações civis ganharam força para provocar a atividade jurisdicional e, de mãos dadas com o Ministério Público, puderam em parte frear as inconsequentes agressões ao ambiente. Para dar a dimensão real e importância efetiva do afrouxamento das regras de legitimação para agir, basta lembrar que países mais desenvolvidos da União Europeia e tão próximos de nossa tradição jurídica, ainda buscam, sem resultados concretos mais evidentes, um sistema de acesso coletivo à Justiça.
O terceiro marco pontifica em 1988, com a promulgação da nova Constituição brasileira, onde o progresso se fez notável, na medida em que a Magna Carta deu ao meio ambiente uma disciplina rica, dedicando à matéria um capítulo próprio em um dos textos mais avançados em todo o mundo. E na Constituição Federal vieram as Constituições Estaduais, que incorporaram também o tema ambiental, ampliando, o já amplo tratamento conferido pela Lei Maior, seguidas depois das Leis Orgânicas dos Municípios (verdadeiras Constituições locais), marcados todos por intensa preocupação ecológica.
O quarto é representado pela edição da Lei 9.605, de 12.02.1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Esta lei, conhecida como “Lei dos Crimes Ambientais”, representa significativo avanço na tutela do ambiente, por especificar organicamente os crimes ecológicos. A Lei também inova ao tornar realidade a promessa constitucional de se incluir a pessoa jurídica como sujeito ativo do crime ecológico.
Se, no plano mais amplo, a legislação ambiental brasileira é festejada, espanta verificar que na realidade, isto é, das atividades degradadoras, as normas ambientais não tenham sido capazes de alcançar os objetivos que justificam sua existência, o principal deles sendo a compatibilização entre o crescimento econômico e a preocupação com o meio ambiente.
Não nos cabe, aqui, fazer um balanço aprofundado das razões da ineficiência da legislação ambiental brasileira. Podemos, contudo, dizer que, ao lado de outras causas mais amplas, como a ausência de vontade política, a fragilidade da consciência ambiental e a inexistência de um aparelho implementador adequado, algumas de caráter estritamente legislativo são facilmente identificáveis.
Não basta, que o Capítulo do meio ambiente na Constituição Federal seja o mais avançado do mundo, é preciso que a legislação tenha um instrumento normativo e operacional, apto a inserir as atribuições do Poder Público e o exercício da cidadania, num contexto moderno e dinâmico.
RESPONSABILIDADE CIVIL E REPARAÇÃO DO DANO ECOLÓGICO
Nesse subcapítulo, tentaremos traçar um perfil sobre os regimes de responsabilidade civil por dano ambiental, abordando, principalmente, a sua fundamentação e suas influências no Meio Ambiente.
O Direito Ambiental, tem três esferas básicas de atuação: a preventiva, a reparatória e a repressiva. Sendo a tenção direcionada à reparação do dano ambiental.
A reparação e a repressão ambientais representam atividade menos valiosa que a prevenção. Pois cuidam do dano já causado. A prevenção, tem a atenção voltada para momento anterior, o do mero risco.
A reparação ambiental, funciona através das normas de responsabilidade civil, que por sua vez funcionam como mecanismos de tutela e controle da propriedade.
A responsabilidade civil pressupõe prejuízo a terceiro, sendo pedido de reparação do dano, através da recomposição em forma de indenização.
O dano ambiental, ação típica da sociedade moderna, com seu estilo de civilização que se formou a partir da revolução industrial e modificou profundamente o relacionamento do ser humano com o mundo natural.
O dano ambiental se caracteriza pela pulverização de vítimas, afeta uma pluralidade de vítimas, mesmo quando alguns aspectos particulares do dano atingem individualmente certos sujeitos.
Em outro contexto, o dano ambiental é de difícil reparação. Daí que o papel da responsabilidade civil, especialmente quando se trata de mera indenização, é sempre insuficiente, ou seja, a prevenção é a melhor solução. Dessa forma, o dano ambiental é de difícil valoração, ou seja, mesmo com o esforço reparatório, nem sempre será possível obtermos a totalidade do dano ambiental.
A Lei 6.938 81 dispõe que a Política Nacional do Meio Ambiente, visa a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados.
Assim, há duas formas principais de reparação do dano ambiental: a recuperação natural e a indenização em dinheiro. Não estão elas hierarquicamente em pé de igualdade.
A modalidade ideal e a primeira que deveria ser tentada, mesmo que mais onerosa, seria de reparação do dano ambiental, que é a reconstituição ou recuperação do meio ambiente agredido, de qualquer modo, em ambas as hipóteses de reparação do dano ambiental, busca o legislador a imposição de um custo ao poluidor, que, a um só tempo, cumpre dois objetivos principais: dar uma resposta econômica aos danos sofridos pela vítima (o indivíduo ou a sociedade). A efetividade depende da certeza e rapidez da ação reparatória.
O dano ambiental é regido pelo sistema da responsabilidade objetiva, fundado no risco, que prescinde por completo da culpabilidade do agente e só exige, para tornar efetiva a responsabilidade, a ocorrência do dano e a prova do vínculo causal com a atividade.
A reparação baseada na regra da culpa, é que o dever ressarcitório pela prática de atos ilícitos decorre da culpa lato sensu, que pressupõe a aferição da vontade do autor, enquadrando-a nos parâmetros do dolo (consciência e vontade livre de praticar o ato) ou da culpa em sentido estrito (violação do dever de cuidado, atenção e diligência com todos).
Já a reparação baseada na regra da objetividade, coube à Lei 6.938/81, instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente, dar adequado tratamento à matéria, substituindo, o princípio da responsabilidade subjetiva, fundamentado na culpa, pelo da responsabilidade objetiva, fundamentada no risco da atividade. A vinculação da responsabilidade objetiva à teoria do risco integral, expressa a preocupação em estabelecer um sistema de responsabilidade o mais rigoroso possível, ante o alarmante quadro de degradação que se assiste não só no Brasil, mas em todo mundo.
O princípio da responsabilidade objetiva é o da equidade, para que se imponha o dever de reparação do dano e não somente porque existe responsabilidade.
MEIOS PROCESSUAIS PARA A DEFESA AMBIENTAL
A presença do Poder Judiciário para sanar os conflitos ambientais, pode-se afirmar sem exagero, é uma das conquistas sociais importantes, abrangendo países desenvolvidos e em desenvolvimento, será abordado neste subcapítulo somente a ação popular e a ação civil pública, na sua acepção constitucional de defesa do meio ambiente.
A ação judicial pode ser intentada por qualquer cidadão. Dessa forma, é condição da ação a prova de que o autor está de gozo de seus direitos políticos, isto é, que é eleitor. A Constituição Federal de 1988, dá um novo enfoque à ação popular, dizendo: “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado partícipe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.
A única dificuldade para a ação ser totalmente popular é o cidadão ou cidadãos, precisam contratar advogado para apresentar a petição inicial.
A ação regulada pela Lei 7.347, de 24.7.85, traz como características:
– visa proteger o meio ambiente, o consumidor e os bens e interesses de valor artístico, estético, histórico, paisagístico e turístico. Interesse difusos e coletivos, como os rotulou a Constituição Federal (art. 129, III).
– a proteção desses interesses e bens se faz através de três vias: cumprimento da obrigação de fazer, cumprimento da obrigação de não fazer e condenação em dinheiro.
– a ação da Lei 7.347 abriu as portas do Poder Judiciário às associações que defedem os bens e interesses, no plano da legitimação.
– a Ação Civil Pública consagrou uma instituição – o Ministério Público- valorizando seu papel de autor em prol dos interesses difusos e coletivos. O MP saiu do exclusivismo das funções de autor no campo criminal e da tarefa de fiscal da lei na esfera civil, para exercer a defesa social.
– Inova, por fim, essa ação civil no sentido de criar um fundo em que os recursos não advêm do Poder Executivo, mas das condenações judiciais, visando à recomposição dos bens e interesses lesados. Não se trata nessa ação de ressarcir as vítimas pessoais da agressão ambiental, mas de recuperar ou tentar recompor os bens e interesses no seu aspecto específico.
Na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938 81), art. 14, parágrafo § 1º) constou que o Ministério Público da União e dos estados tem legitimidade para propor ação civil por danos causados ao meio ambiente.
O MEIO AMBIENTE E A CIDADANIA
A questão ambiental ocupa hoje um importante espaço político, juntamente com as questões de sexo e de raça, constitui como ponto crucial da política social. Tornou-se um movimento social que expressa as problemáticas aos riscos de grande consequência, e exige a participação de todos os indivíduos, pois o Direito ao Ambiente é um Direito Humano Fundamental.
No contexto político contemporâneo, onde as coletividades difusas são os novos atores, os determinantes são a liberdade, a solidariedade e a qualidade de vida, a questão ambiental é um canal de abertura para a participação sociopolítica, que abre possibilidades de influência das classes sociais, no processo de forma das decisões políticas.
O impacto dos danos ambientais nas gerações atuais, e seus reflexos para as futuras, fez com a questão ambiental atravessasse fronteiras, se tornasse globalizada. Em 1949 é realizada em Lake Sucess, nos EUA, a Conferência Cientifica ONU sobre a Conservação e Utilização de Recursos, destaca-se ainda, a publicação do livro de Rachel Carson (1962), que relata os efeitos contrários da má utilização dos pesticidas e inseticidas químicos. Nesse período, os principais problemas ambientais são o crescimento populacional, desenvolvimento industrial e a corrida armamentista (testes nucleares).
Na década de 60, a população dos países do Norte requer melhor qualidade de vida, isto porque, as necessidades básicas foram satisfeitas e estavam sendo cumpridas. Porém, lutam pela qualidade nas condições de trabalho. Nesta década inicia-se o interesse dos economistas pela questão ambiental, observando-se os efeitos do crescimento econômico sobre o meio ambiente. Mas a preocupação pública ganha forças, com a Revolução Ambientalista, desencadeada nos EUA, espalhando-se pelo Canadá, Europa Ocidental, Japão, Nova Zelândia e Austrália, e o ambientalismo torna-se um grupo de interesse no sistema político.
Em setembro de 1968 foi realizada em Paris, a Conferência Intergovernamental de Especialistas sobre as Bases Científicas para Uso e Conservação Racionais dos Recursos da Biosfera (Conferência da Biosfera), sob a coordenação da UNESCO, tendo por objetivos analisar o uso e a conservação da biosfera, o impacto humano sobre a mesma e a questão ambiental.
Cabe destacar o Princípio 21 da Declaração de Estocolmo, que determina que “De acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito internacional, os Estados tem o direito soberano de explorar seus próprios recursos, de acordo com a sua política ambiental, e a responsabilidade de assegurar que as atividades levadas à efetivação dentro de sua jurisdição ou sob seu controle, não prejudiquem o meio ambiente de outros Estados ou de zonas situadas dos limites da jurisdição nacional”.
A década de 80 é marcada pelo movimento ambientalista e dos partidos verdes. Destaca-se também nesta década, a ocorrência de vários desastres ecológicos (Chernobyl, 1986) e da intensificação poluição.
Em junho de 1992, o Brasil (Rio de Janeiro) é sede da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Desenvolvimento (CNUMAD-92) e teve como objetivo o exame de estratégias de desenvolvimento. Ressalta-se o Princípio 1, que estabelece que “os seres constituem o centro das preocupações relacionadas com desenvolvimento sustentável. Têm o direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com o meio ambiente”.
Entendendo-se a cidadania como o estabelecimento de um laço político entre o indivíduo e a organização do poder, podemos dizer que no Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu abertura de canais para a participação efetiva da vida social, através do cidadão ou da coletividade.
Quanto à matéria ambiental, a Constituição de 1988, abriu espaços à participação e atuação da população na preservação e defesa ambiental, impondo a coletividade o dever de defender o meio ambiente (artigo 225 “caput”, CF88) e coloca como direito fundamental de todos os brasileiros, a proteção ambiental determinada no artigo 5º, inciso LXX CF/88 (Ação Popular). Estabeleceu que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, assegurando a todos o direito ao meio ambiente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo às presentes e às futuras gerações, e ampliou as ações judiciais na tutela ambiental.
É direito da comunidade participar na formulação e execução das políticas ambientais, que deve ser discutida com populações atingidas, também, a atuação nos processos de criação do Direito Ambiental, e ainda, a participação popular de proteção do meio ambiente por intermédio do Poder Judiciário.
Necessário se faz destacar os principais instrumentos constitucionais, que estão à disposição do cidadão e da coletividade brasileira na tutela do meio ambiente:
– Ação direita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo CF/88 artigo 102º, inciso I, alínea “a”:
– Mandado Segurança Coletivo: CF/88, artigo 5º, LXX;
– Mandado de Injunção: segundo o disposto no artigo 5º, LXXI da CF/88: ”conceder-se à mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania:”.
– Ação Civil Pública: “é o instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico por infrações da ordem econômica (art.1º), protegendo, assim, os interesses difusos da sociedade”.
– Ação Popular: a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, assegura ao cidadão brasileiro a possibilidade de “anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado partícipe (ofendendo) a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (…)” (artigo 5º, inciso LXXIII).
A questão ambiental é um dos mais importantes na última década do século XX, revelando impactos negativos provocados no ambiente natural pelo crescimento sem limites que impôs forte domínio sobre a natureza, além de suas necessidades. Este crescimento se mostrou ecologicamente predatória, socialmente perverso e politicamente injusto, e o esgotamento deste modelo é o que caracteriza a sociedade global.
Portanto, destaca-se a necessidade da participação da comunidade e do Poder Público como agentes construtores do meio ambiente equilibrado, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população e da preservação do meio ambiente. A participação é um processo de conquista, construída através da abertura de espaços.
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro.
Ed.Malheiros,págs. 89 – 293.
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. Ed. RT revista dos tribunais, págs.
89 – 279.
ALLARI, A.A.; FERRAZ, S. (coords.) Estatuto da cidade: comentários à
Lei 10.257/2001. São Paulo: Malheiros, 2002. págs. 330 – 334.
REJANE CRISTINA VENDITTO FERREIRA E SILVA